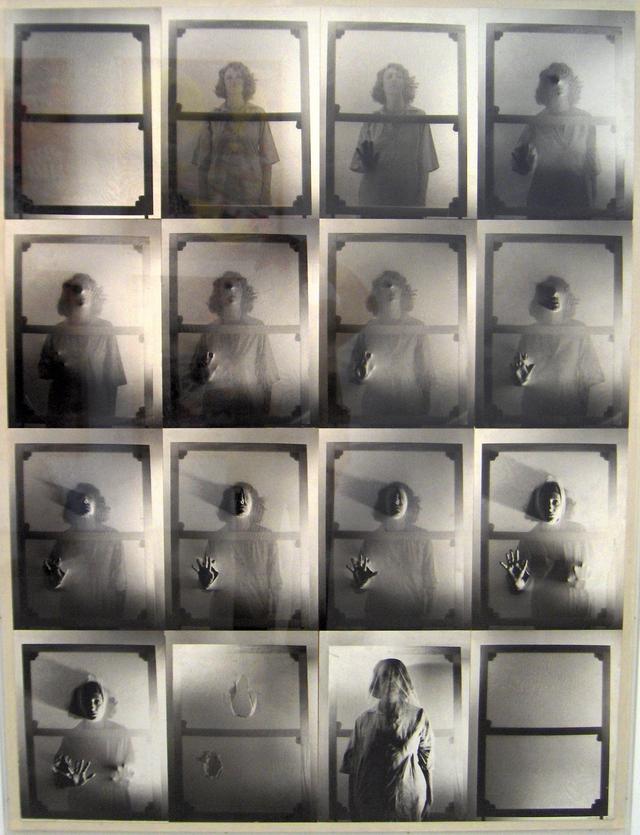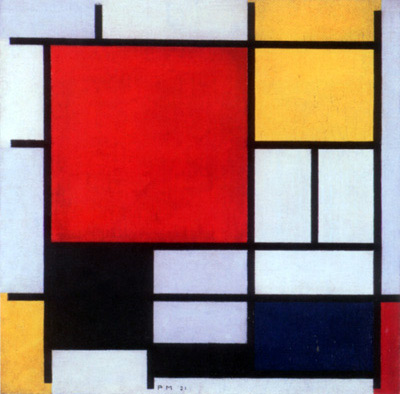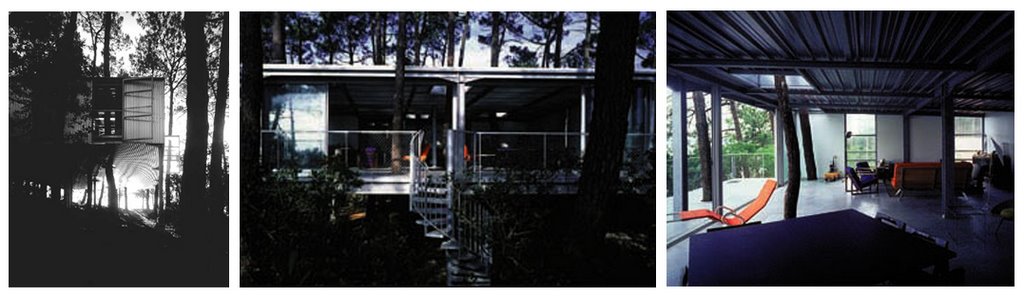Passaram dez anos desde que li este texto pela primeira vez. Na altura, não sei se prestei atenção suficiente ao conteúdo, mas a impressão geral que tinha do livro e que permaneceu na minha memória era francamente positiva. É sem dúvida um texto carregado de esperança, bom para qualquer aluno que inicia um percurso académico com paixão. O entusiasmo sai sublinhado depois da leitura.
Hoje, e porque me lembrei que no Távora talvez encontrasse uma referência que necessitava, reli-o. No fim de o ler (para dentro) disse à Ana: ‘deixa lá ler-te isto’. E li-o novamente em voz alta. Após a leitura ficou um silêncio um pouco constrangedor no escritório. Perguntei-lhe…’que dizes disto?’. Ela respondeu… ‘é bíblico’… silêncio no escritório novamente. ‘Lê outra vez este parágrafo’ disse-me apontando-o no livro.
Para além da sua preparação especializada - e porque ele é homem antes de arquitecto - que ele procure conhecer não apenas os problemas dos seus mais directos colaboradores, mas os do homem em geral. Que a par de um intenso e necessário especialismo ele coloque um profundo e indispensável humanismo. Que seja assim o arquitecto - homem entre os homens - organizador do espaço - criador de felicidade.
Houve silêncio novamente. Pensei para comigo, e muito de lá de dentro, 'que raio de filha putice nos fez a vida que nos transformou nesta estirpe de cínicos optimistas? Foda-se! Eu queria acreditar nesta merda com o mesmo entusiasmo, a mesma naturalidade, a mesma identificação que senti quando o li há 10 anos atrás e não consigo!'
Sobre a posição do arquitecto
Quereríamos agora, e como epílogo, escrever algumas curtas palavras sobre a posição do arquitecto. Evidentemente que não é ele o único responsável pelo que acontece no espaço organizado, mas atendendo à importância de que a sua posição se reveste nesta matéria não nos parece que estas palavras últimas possam ser despropositadas.
Tal como é, tal o homem organiza o seu espaço; a um indivíduo e a uma sociedade em equilíbrio correspondem um espaço harmónico; a um indivíduo e a uma sociedade em desequilíbrio corresponde a desarmonia do espaço organizado. A forma criada pelo homem é prolongamento dele - com as suas qualidades e com os seus defeitos.
Todo o homem cria formas, todo o homem organiza o espaço e se as formas são condicionadas pela circunstância, elas criam igualmente circunstância, ou ainda, a organização do espaço sendo condicionada é também condicionante.
O arquitecto, pela sua profissão, é por excelência um criador de formas, um organizador do espaço; mas as formas que cria, os espaços que organiza, mantendo relações com a circunstância, criam circunstância e havendo na acção do arquitecto possibilidade de escolher, possibilidade de selecção, há fatalmente drama.
Porque cria circunstância - positiva ou negativa - a sua acção pode ser benéfica ou maléfica e daí que as suas decisões não possam ser tomadas com leviandade ou em face de uma visão parcial dos problemas ou por atitude egoísta de pura e simples satisfação pessoal. Antes de arquitecto, o arquitecto é homem, e homem que utiliza a sua profissão como um instrumento em benefício dos outros homens, da sociedade a que pertence.
Porque é homem e porque a sua acção não é fatalmente determinada, ele deve procurar criar aquelas formas que melhor serviço possam prestar quer à sociedade quer ao seu semelhante, e para tal a sua acção implicará, para além do drama da escolha, um sentido, um alvo, um desejo permanente de servir.
Os seus campos de actividade são múltiplos - porque múltiplas são as facetas do espaço organizado. Projecta e realiza edifícios, dedica-se ao planeamento do território a escalas várias, desenha mobiliário.
Para ele, porém, projectar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a forma justa, a forma correcta, a forma que realiza com eficiência e beleza a síntese entre o necessário e o possível, tendo em atenção que essa forma vai ter uma vida, vai constituir circunstância.
Sendo assim, projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto na criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem.
E da circunstância deverá ele contrariar os aspectos negativos e valorizar os aspectos positivos, o que significa, afinal, educar e colaborar. E colaborará e educará também com a sua obra realizada.
A sua posição será, portanto, de permanente aluno e de permanente educador; como tal saberá ouvir, considerar, escolher - e também castigar.
Não se suponha ele o demiurgo, o único, o génio do espaço organizado - outros participam também na organização do espaço. Há que atendê-los e colaborar com eles na obra comum.
Para além da sua preparação especializada - e porque ele é homem antes de arquitecto - que ele procure conhecer não apenas os problemas dos seus mais directos colaboradores, mas os do homem em geral. Que a par de um intenso e necessário especialismo ele coloque um profundo e indispensável humanismo.
Que seja assim o arquitecto - homem entre os homens - organizador do espaço - criador de felicidade.
Da Organização do Espaço (FAUP Publicações), Fernando Távora
![[sincronicidade]](http://photos1.blogger.com/x/blogger2/6768/2517/1600/z/662588/gse_multipart9912.jpg)